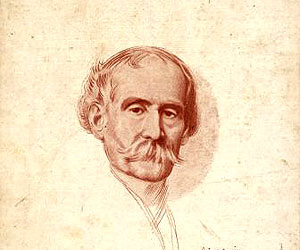|
|
FONTES DA HISTÓRIA MILITAR
|
Manuel Amaral
As fontes para a História Militar portuguesa nos séculos XVIII e XIX são muito vastas. Nesta comunicação não apresentarei uma listagem exaustiva dessas fontes, mas sim o conjunto de fontes existentes para uma caracterização social do corpo militar português, na época compreendida entre finais do século XVIII e 1820, época determinante para a história portuguesa. É minha convicção que um estudo de tipo sociológico e quantitativo do corpo dos oficiais, nos permitirá ultrapassar definitivamente as conjecturas mais ou menos sustentadas sobre a composição social dos oficiais ao longo deste período de crise do Antigo Regime político. Estudos que deram bons resultados em países como a Espanha, a França e a Inglaterra.1 Mas, antes de tudo, gostava de tentar mostrar por que é que este estudo ainda não foi realizado em Portugal; ou melhor, por que é que não houve necessidade de confirmar empiricamente o que se tem sustentado, neste último século de historiografia, sobre o Exército. A verdade é que, as bases em que tem assentado as poucas sínteses de história militar publicadas até hoje são, na sua maior parte, devedoras das obras realizadas a partir de finais do século XIX, fundamentalmente por militares, e que, por isso, são consideradas como definitivas. Ora, não parece que, assim, se possam considerar obras como as de Latino Coelho, para referir o exemplo mais paradigmático. Na verdade, a História política e militar de Portugal desde os fins do século XVIII até 1814, 2 não pode ser mais usada como se de uma fonte se tratasse, pelos investigadores que se interessam pela história militar do período, e muito menos como base para um estudo da História Militar portuguesa, já que Latino Coelho, no 1.º capítulo do 3.º volume, escreveu um resumo da história do exército até ao final do século XVIII. É imperioso fazer uma crítica prévia a tal obra, antes de a utilizar, pois só a partir daí podemos compreender o alcance da obra.
LATINO COELHO Vejamos, então, quem é Latino Coelho em 1874, quando sai o 1.º volume da sua obra mais importante. Oficial de Engenharia, com o posto de Major, professor da Escola Politécnica de que será director, tinha sido deputado em 1855 e 1859, era sócio efectivo da Academia de Ciências, de que era secretário desde 1856, vogal do Conselho Geral de Instrução Pública, membro da Comissão encarregue da reforma da Academia de Belas-Artes, director do "Diário de Lisboa", redactor principal do "Jornal do Comércio", ministro da Marinha em 1868-69, no governo Reformista de Sá da Bandeira e Par do Reino. Mas mais importante do que este rol de actividades variadas, e que, note-se, estão pouco relacionadas com a profissão das armas, é sabermos que se tinha declarado Iberista em 1848 e que, desde os anos 50 do século, era Republicano, pertencendo à sua ala democrata, vindo mesmo a ser eleito deputado nas suas listas. 3 Ora, o Republicanismo no século XIX tem uma ideologia que determina em tudo a actividade dos seus membros - o positivismo, e que também determina a própria produção historiográfica de Latino Coelho, já que para ele a história não deve ser mais do que «o verdadeiro conhecimento das leis fundamentais no progresso das sociedades» e deve ter como objectivo o «descobrimento da admirável legislação que rege o universo material». 4 Esta ideologia vai levar os republicanos, do século XIX entenda-se, (já que o programa nunca irá ser aplicado mesmo com a implantação da República), a defenderem o aumento da participação política da população em geral: a defenderem a Democracia em oposição ao Liberalismo. A defesa da democratização da sociedade vai levar os republicanos a proporem para a instituição militar, que é o que aqui interessa notar, a criação de um exército de quadros em oposição ao que consideram «o Exército permanente», invenção do Absolutismo monárquico, como disse Henriques Nogueira, um dos primeiros doutrinários republicanos, exército este considerado também como um «instrumento nulo ou impotente para o bem, activo e poderosíssimo para o mal». O que se quer criar é um exército composto de cidadãos-soldados, e assim acabar com um exército que, ainda segundo Henriques Nogueira, era composto de «indivíduos estúpidos e pervertidos». No fundo, o que se defende é um exército do tipo suíço que, como afirmou Joaquim de Carvalho, «fascinava estes homens». 5 Esta política defendida em 1851, vai ser novamente publicitada, agora por Oliveira Martins no seu Portugal e o Socialismo, de 1873, ao defender na "Súmula legislativa da futura revolução portuguesa", no ponto referente ao Exército, que "perdido o carácter de força agressiva, o exército reduz-se à norma de segurança interna e de defesa nacional. Conscrição universal, abolição da substituição, organização de reservas, são os trapos normais da constituição da força pública; assim como vai ser repetida pelo Centro Republicano Federal de Lisboa, que no ponto 20 do seu programa apresentado em 1873 afirma: "Queremos a abolição do exército permanente que é uma fonte de esgoto de todas as forças vivas da nação, um foco permanente de desmoralização e um perigo para a liberdade". 6 Latino Coelho, no 1.º capítulo do 3.º volume da sua História, faz eco destas proclamações republicanas, ao afirmar, referindo-se ao exército do Renascimento, que "a guerra em vez de ser um instinto natural e uma lastimosa necessidade, degenera pouco a pouco num ofício, deixa de ser heróica devoção para converter-se numa indústria proveitosa". Esta afirmação não pode deixar de ser relacionada com a má imagem que têm os reis de Quinhentos, para todos os historiadores portugueses do século XIX. Mas, o que é mais interessante é a relação que Latino Coelho faz entre o exército renascentista, o exército permanente, e o do século XIX, fazendo-se mais uma vez eco das críticas republicanas e democratas ao exército da sua época ao afirmar que, como na Renascença «o império da plutocracia, [isto é dos privilégios da nobreza] ainda hoje [se conserva] no sistema das remissões». Mas também afirma, o que é significativo, que no sistema militar criado em 1570 existia «a instituição democrática das eleições para todos os postos da milícia, segundo se praticou ... nos primeiros exércitos da republica franceza», sendo que a organização militar de D. Sebastião é um «bosquejo do sistema guerreiro da Suissa». 7 Não é muito importante para o assunto aqui tratado, mas vale a pena notar que esta afirmação do autor tem como base uma estranha ignorância do significado da palavra eleição. Como era de se esperar, os oficiais das Companhias de Ordenanças eram eleitos - escolhidos - pelas câmaras municipais, e não pelos soldados. Na verdade, o que Latino Coelho nos mostra, por analogia, é a aceitação completa daquilo que se convencionou chamar a "Nação em Armas", pelo movimento republicano e democrata português. Na verdade, o que o republicanismo sempre defendeu é a organização do exército como representante da "Nação em Armas", como instituição militar formada por cidadãos-soldados, fórmula que será usada na 1.ª lei de recrutamento da República, de 2 de Março de 1911. O conceito apareceu, como se sabe, com o decreto de 23 de Agosto de 1793, em que a Convenção francesa decretou a levée en masse. O princípio do serviço militar obrigatório e individual durou pouco tempo em França, já que, em 1799, o princípio do serviço militar universal foi posto em causa com a regulamentação do serviço voluntário e da autorização da substituição.
A "NAÇÃO EM ARMAS" Foi em 1813, com a criação de uma milícia popular na Prússia para combater os exércitos napoleónicos, que se fez apelo de novo à "Nação em Armas". Na verdade, com a emancipação dos servos prussianos, começou na Alemanha o processo de transformação de súbditos em cidadãos. Em 1813, o Rei da Prússia foi obrigado a introduzir o recrutamento universal sem excepções. Mas, esta experiência também durou pouco tempo. Com o fim da guerra, em 1815, o exército prussiano voltou à sua antiga organização, com pequenos efectivos recrutados por longo tempo e numa faixa restrita da população. Mas, o conceito de "Nação em Armas" manteve-se em 3 extractos diferenciados
Devido à associação à Revolução, a ideia voltou à superfície em meados do século XIX. Como exército de cidadãos, reapareceu com os movimentos democráticos, republicanos ou socialistas. Como possibilidade de recrutar sem excepções, reapareceu na Prússia, em 1859, com as grandes reformas do Exército Prussiano realizadas sob a direcção do futuro Imperador Guilherme I. Foi este último legado que imperou com as vitórias prussianas de 1866 e 1870, que mostraram as virtudes de um serviço militar curto e provido de reservas numerosas. Mas, não nos devemos esquecer que, por meio da escola militar alemã da segunda metade do século XIX, estes legado ligava-se com as reformas políticas, de sentido democrático, realizadas na Prússia, entre 1807 e 1813, e por meio das obras de Clausewitz se ligava a uma interpretação positiva do legado revolucionário francês, na sua vertente militar. 8 Isto é, era possível aos democratas aceitar a experiência militar prussiana, mesmo que no fundo esta forma de organização não fosse agente da democracia, mas do militarismo. 9 Desde cedo que em Portugal se aceitou esta nova realidade e se defendeu a reorganização do Exército em novos moldes, mesmo antes da Guerra Franco-Prussiana de 1870, não tanto como uma proposta radical, mas tão só reformista, com claras semelhanças com as propostas- democratas e republicanas. Na verdade, numa mensagem de Junho de 1870 ao Duque de Saldanha, chefe do Governo após o golpe conhecido pela Saldanhada, a Comissão Central 1.º de Dezembro de 1640, que deu, origem à Sociedade Histórica da Independência de Portugal, aprovou um texto escrito por uma comissão de que era membro Aires de Sá Nogueira, irmão do Marquês de Sá da Bandeira, e seu colaborador directo, que defendia que "na opinião autorizada do sr. Rustow, distintíssimo oficial prussiano, que acaba de escrever um livro admirável acerca das instituições militares, o exército, qual o propõe a Comissão 1.º de Dezembro, que os especialistas denominam de quadro, é o único digno de uma nação civilizada, é o ideal de máxima perfeição". A ideia, segundo o próprio Sá Nogueira divulgou, era criar um exército de 200.000 homens, incluindo as reservas evidentemente. 0 que se queria, como a mensagem resumia, era "a reformação completa do exército, tornando-o uma instituição verdadeiramente nacional, instrumento forte e inquebrantável de independência, defesa e liberdade" (1.º ponto). No 3.º ponto, defendia-se um "serviço obrigatório para todos os cidadãos válidos, tornando-se o núcleo do exército uma escola e um viveiro, sempre em actividade, das reservas", e por isso, digo eu, escola da nação. 10 Este tipo de Exército, só veio a ser tentado em Portugal com a reorganização de 1884, mas que nunca foi posta em prática. O que interessa sublinhar é que esta visão do Exército, como devendo ser uma «Nação em Armas» e escola da Nação, melhor seria dizer escola do nacionalismo, vai levar a uma crítica permanente ao Exército pelos intelectuais portugueses da chamada 3.ª geração romântica. O que se critica não é o Exército em si mesmo, mas sim o conceito de exército permanente, ao serviço do Estado repressivo, e sobretudo, no caso português, decadente. Os intelectuais portugueses que formavam, o que o Prof. António José Saraiva chamou, a Tertúlia Ocidental, não são por isso necessariamente pacifistas; não, o próprio Antero de Quental em 1865, pensou em se alistar nos voluntários garibaldinos, afirmando que «eu nem imaginariamente calculo amassa formidável de ensinos em um ou dois anos da miserável mas forte vida duns soldados rasos». 11 Aqui, se nota outra vez o leit-motiv das críticas ao exército do Liberalismo vigente - o exército como escola de virtudes. Mas não um exército qualquer, um exército revolucionário ao serviço da emancipação e unificação dos povos e da revolução. Esta visão veio influenciar, por intermédio de António Sérgio, a obra de Eduardo Lourenço, publicada em 1974, mas escrita na sua maior parte em 1958, Os militares e o poder. 12 A impregnação da teoria da «Nação em Armas» nos estudos históricos sobre o Exército teve, e ainda tem, duas consequências. A 1.ª, é que se perdeu a visão de um exército de Antigo Regime socialmente complexo, pois toda a oficialidade passa, de acordo com esta teoria, a ser considerada como aristocrata ou cliente directa da Aristocracia, e após as chamadas revoluções burguesas, como representante da burguesia dominante. 13 Latino Coelho, na obra que tenho vindo a citar, Carlos Selvagem no seu Portugal Militar, 14 o Padre Ernesto Sales, em 1937, na sua obra O Conde de Lippe, 15 Fernando Pereira Marques actualmente, este último directamente influenciado por Eduardo Lourenço, são eco desta visão simplista da composição social do Exército. A verdade é que esta visão é completamente redutora da realidade. O Exército, sendo necessariamente espelho da realidade social de um país, não é necessariamente dirigido unicamente por membros da elite dirigente tradicional, pois há sempre, por mais pequena que ela seja, mobilidade social. Mas, o que é importante salientar é que o patrocínio da aristocracia, digamos mais precisamente da fidalguia, não é um meio privilegiado de entrada dos homens destinados aos postos mais subalternos da oficialidade, e no caso português nem tão pouco é o principal. Segundo parece, a maior parte da oficialidade vem desse estrato muito pouco conhecido em Portugal e que a documentação chama de «gente nobre da governança das terras» e para o qual Baquero Moreno já mostrou a importância que tem o seu estudo. Na verdade, o recrutamento dos oficiais é, neste período e com certeza nos períodos anteriores, regional e, por isso, em princípio, mais dependente das relações de clientelismo local do que das relações de clientelismo com a nobreza titulada. Na verdade, corpos com recrutamento quase exclusivamente aristocrático, no sentido restrito do termo, isto ainda em 1806, são os 7 regimentos da guarnição de Lisboa: os regimentos de cavalaria de Alcântara, Meclemburgo e do Cais, e os de infantaria de Lippe, Freire, Peniche e Vieira Teles, os futuros regimentos de cavalaria n.os 1, 4 e 7, e os de infantaria 1, 4, 13 e 16.
O CORPO DE OFICIAIS Para além de reduzir o campo de observação social, a ideologia da "Nação em Armas" impede-nos de ver a diferenciação que se dá no interior da própria instituição militar. Isto é, não leva a pôr o problema das diferentes perspectivas de carreira que cada oficial tem quando começa a sua carreira 'militar, as decisões individuais que levam cada um dos oficiais a optar por uma ou outra solução, quando se lhe proporcionam condições que lhe permitam promover a sua carreira; finalmente, não nos permite ver as diferenças ideológicas que num determinado momento dividem a instituição. Na verdade, o exército nesta época não é uma instituição imóvel, separada da sociedade em geral e virada para si mesma. Quero com isto dizer que o corpo de oficiais, neste período, não aceita necessariamente os pressupostos que determinam a sua carreira. Em resumo, a visão do Exército, como devendo ser, e ter sido, uma "Nação em Armas" não nos permite vislumbrar o problema social que existe nos exércitos, não só do Antigo Regime como nos do século XIX, e que determina muitas das acções dos seus oficiais. 16 Por isto que resumidamente disse, parece-me necessário ultrapassar os anteriores estudos sobre o exército português do Antigo Regime que tinham, como penso ter provado, uma visão ideológica e, por isso mesmo, necessariamente redutora da realidade exército, e passar a fazer investigações que ultrapassem o âmbito da história político-militar, realizando estudos sobre a composição social do corpo de oficiais do Exército, assim como da sua própria organização interna. Só assim se poderá compreender uma parte importante da história política da época, e sobretudo da futura, da história do Liberalismo português e do peso que o Exército teve nessa época. Para este estudo social, poderemos utilizar a teoria das elites criada por Pareto e Mosca 17, em oposição à teoria das classes de Marx, com o objectivo de descortinar a circulação das elites no interior do exército. Tentar, no fundo, descobrir se é verdade ou não que o exército se tenha tornado, no decorrer do século XIX, no meio preferido de promoção social, sempre referido mas nunca provado. Descobrir por isso qual o tipo de recrutamento social do corpo de oficiais, assim como do recrutamento geográfico. Como disse, as fontes são abundantes e facilmente acessíveis.
FONTES PARA O ESTUDO DO CORPO DE OFICIAIS Listagens nominativas de oficiais encontram-se nos Almanaqes de Lisboa, publicados pela Academia de Ciências a partir de 1786, e a partir de 1811 nos Almanaques Militares, sendo que existem algumas listas manuscritas no Arquivo Histórico Militar para períodos anteriores. Para o seguimento das carreiras existem publicadas, e com muito bons índices onomásticos, os diferentes volumes da obra do Coronel Madureira dos Santos, Católogo dos decretos do Conselho da Guerra,18 e os Almanaques Militares a partir da segunda metade do século XIX, e também completamente indexados pelo último apelido do oficial os Livros Mestres Regimentais e os Processos Individuais dos Oficiais, corpos d.o Arquivo Histórico Militar. Estes índices não são tão fáceis de consultar como à partida pode parecer, porque muitas vezes o último apelido não é mais que o apelido mais utilizado pelo oficial. Os processos individuais têm um índice pelo primeiro volume oficial, que permite ultrapassar esta dificuldade. Existe um outro corpo valioso, não indexado, que é formado pelos Livros de Vencimentos Regimentais e que nos permite vislumbrar a carreira dos oficiais por um outro prisma. Nos livros Mestres Regimentais, a primeira patente do oficial tem a descrição sinalética do oficial assim como, mais ou menos completos, os seus dados biográficos. Estes livros poderão permitir um estudo da incidência geográfica do recrutamento para todo o exército, e ser uma base para a sua caracterização social. Um dos problemas de mais difícil investigação, é o da definição do estatuto social do oficial. Quando não nos é claramente dado pelos Livros Mestres e pelos processos individuais, que é o que acontece muito frequentemente, sobretudo no período anterior a 1809, terá que se procurar no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, não só nas Consultas do Conselho de Guerra, como nos Decretamentos Militares do Ministério do Reino, 1.º passo a dar, como em outros corpos do Arquivo Nacional: as Habilitações às Ordens Militares, os Vínculos, os Testamentos, e finalmente, para uma investigação mais demorada, nos Registos Paroquiais. Mesmo com estas dificuldades, este vasto rol de fontes disponíveis permite uma determinação do estatuto e carreira dos oficiais, nem que seja em termos muito gerais, solução encontrada por Fernandez Basterreche, na sua; obra sobre o Exército espanhol do século XIX, assim como dos problemas encontrados pelos oficiais no decurso da sua vida. Na verdade, nos diferentes livros de vencimentos, encontram-se entre muitas outras informações, todos os abatimentos feitos ao pré, por motivos de dívidas contraídas. Para além deste primeiro passo, absolutamente necessário, uma investigação sobre os oficiais não poderá deixar de levantar aqueles que passaram pelas instituições de ensino militar ou para-militar. Refiro-me ao Colégio dos Nobres, às Academias de Fortificação e de Marinha, ao Colégio Militar, assim como às Aulas Regimentais. Dados sobre este assunto, encontram-se na 5.ª secção do A. H. M. A documentação do Colégio dos Nobres encontra-se na Torre do Tombo. 19 Um outro estudo a realizar é o das obras de carácter militar publicadas neste período. Uma análise aprofundada do seu conteúdo, mostrará não só as preocupações dominantes no seio do corpo de oficiais, mas também as condições e perspectivas da carreira militar, e sobretudo da sua ligação ao ambiente internacional da época. Uma parte substancial destas obras encontra-se disponível na Biblioteca do Estado Maior do Exército, na Secção dos Paulistas. 20 Com estes estudos poderemos, estou convicto, descobrir quem é promovido e reformado, em 1802, após a Guerra das Laranjas, em 1805 e 1806, quando se prepara a reorganização do exército, é em 1808-1809, imediatamente após a revolta anti-francesa, e sobretudo o porquê de tanta modificação, que criou indubitavelmente uma grande mobilidade no interior do exército. Poderemos possivelmente compreender que uma primeira grande modificação no recrutamento social dos oficiais se terá dado a partir de 1797, quando a preparação para a guerra com a Espanha e a França levou a um aumento muito significativo do esforço militar, tanto ao nível financeiro, como, e sobretudo, ao nível dos efectivos; que os acontecimentos de 1807/1808 permitiram aumentar, ainda mais significativamente, a mobilidade social no interior do corpo de oficiais. Isto é, poderemos possivelmente descobrir que 1820 não é mais do que o resultado da enorme modificação social operada no interior do exército em 1808, quando os oficiais retidos em postos intermédios vêem a sua carreira aberta a novos voos, devido ao desaparecimento do comando aristocrático do Exército, primeiro quando viaja com o rei para o Brasil, pouco depois quando se dirige para França, comandando a Legião. 21 Poderemos, então, e em bases sólidas, descortinar por que é que a revolução de 1820 é um pronunciamento militar e não um golpe de estado. Podermos, então, perceber porque é que em 1820 todo o exército, incluindo os Magessi, e os Silveiras, como escreveu Mouzinho da Silveira, aderiram convictamente a este pronunciamento. 22 Poderemos, finalmente, compreender por que é que das diferentes instituições do estado português da altura, só o Exército actuou como um todo, propondo-se dirigir as reformas que uma parte substancial da élite dirigente considerava necessárias. NOTAS * Este texto foi apresentando como comunicação ao II. Colóquio da Comissão Portuguesa de História Militar: Panorama e Perspectivas actuais da História Militar em Portugal, realizado nos dias 5 a 7 de Novembro de 1991, tendo saído nas Actas, Lisboa, CPHM, 1993, págs. 225-235. Não tendo havido revisão das provas, a comunicação saiu com bastantes gralhas, e até com o nome do autor errado! Esta é, por isso, a versão corrigida. 1. Vejam-se, entre outros, para a Espanha Fernandez Bastarreche, El Exercito Espanol en el siglo XIX, Madrid, Siglo XXI, 1978; para a Grã-Bretanha, P. E. Razell, "Social Origins of Officers in the Indian and British Home Army 1758-1962, British Journal of Sociology, 14, 1963, págs. 248-260; para França, Jean-Paul Bertrand, "Napoleon's Oficers", Past & Present, 112, 1986, págs. 91-111. 2. Obra em 3 volumes, Lisboa, Imprensa Nacional, 1874, 1885 e 1891. 3. V. Inocêncio Francisco da Silva e Brito Aranha, Dicionário Bibliográfico Português, Lisboa, Imprensa Nacional, 1860 a 1885, tomo 5.º, págs. 37-41 e 13.º, págs. 97-98, e Joaquim de Carvalho, "Formação da ideologia republicana (1820-1880)., in Luís de Montalvor (dir.), História do Regímen Republicano em Portugal, Lisboa, 1930, vol. I, pág. 250. 4. Latino Coelho, ob. cit., tomo I, pág. XXVI. 5. J. de Carvalho, ob. cit., págs. 224-25. 6. cit. idem, ibidem. 7. ob. cit., tomo III, pág. 12. 8. A obra de referência sobre Clausewitz é de Raymond Aron, Penser Ia guerre, Clausewitz, 2 vols., Paris, Gallimard, 1976; sobre este assunto v. um bom resumo das opiniões do autor em "Clausewitz, stratége et patriote", in Raymond Aron, Sur Clausewitz, Bruxelas, Editions Complexe, 1987, págs. 13-41. 9. Cf. Hew Strachan, "The Nation in Arms", in Geoffrey Best (ed.), The Permanent Revolution. The French Revolution and its Legacy, 1789-1989, Londres, Fontana, 1989 (reimpressão da 1.ª edição, 1988), págs. 49-73, v. sobretudo as págs. 62-70. 10. V. E. A. Ramos da Costa (comp.), História da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, 1861 a 1940, Lisboa, 1940, págs. 32-37; Rustow escreveu, Die Feldherrunkunts des neunzethen Jahrunderts, 2 vols., Berlim, 1864. A tradução francesa, L'Art Militaire au XIX siècle. Stratégie, histoire militaire apareceu em 1869. A citação de Aires de Sá Nogueira é retirada do capítulo XII do Livro IV: "Progresso da Arte militar desde 1832 até hoje". 11. Antero de Quental, Sonetos, org. António Sérgio, 4.ª ed., Lisboa, Sá da Costa, 1972, págs. 112-113. 12. Eduardo Lourenço, Os Militares e o Poder, Lisboa, Arcádia, 1975. 13. Esta visão de um exército de Antigo Regime dominado totalmente pela aristocracia é um dos pontos centrais da obra de Fernando Pereira Marques, Exército e Sociedade em Portugal, Lisboa, Alfa, 1991 (1.ª ed., 1981), seguindo com uma pequena diferença Latino Coelho. Este defende que todos os oficiais eram fidalgos ou nobres, o que para ele era a mesma coisa; Pereira Marques defende que o exército era dirigido por aristocratas, mas a maior parte dos postos intermédios era constituído por criados, ou pela sua clientela directa; v. ob. cit., págs. 32-38. A base para esta afirmação é a obra anónima que apareceu com autoria do Duque de Châtelet, Voyage en Portugal, Paris, 1801, 2.º vol., pág. 32 (a 1.ª edição é de 1789). Mas o autor deste último livro não faz mais do que desenvolver o que Dumouriez afirmara na sua obra État présent du Royaume de Portugal em l'année 1766, Lausanne, 1775, pág. 107: "Les officiers de ces troupes étoient les valets ou les écuyers dos colonels". 14. Carlos Selvagem, Portugal Militar. Compêndio de História Militar e Naval de Portugal, ed. suplementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 1913. 15. Ernesto Augusto Pereira Sales, O Conde de Lippe em Portugal, V. N. de Famalicão, Publicações da Comissão de História Militar, 1937. 16. Émile Léonard, num célebre artigo, "La question sociale dans l'Armée française, Annales, 3.º ano, n.º 2, Abril-Junho, 1948, págs. 135-149, levantou muito claramente este problema. Para uma visão mais actual v. André Corvisier, Armées et Sociétès en Europe de 1494 à 1789, Paris, P.U.F., 1976. 17. v. T. E. Bottomore, Elites and Society, Penguin Books, 1964 (2.ª ed., Londres, Routledge,1993) para uma apreciação crítica da teoria das elites, sobretudo o capítulo III: "Politics and the circulation of elites", págs. 48-67. Para uma visão mais actualizada do problema v. B. Badie e P. Birnbaum, Sociologie de l'Etat, Paris, Grasset, 1975. 18. Catálogo dos Decretos do Extinto Conselho de Guerra, na parte não publicada pelo general Cláudio de Chaby, 7 vols, Separatas do Boletim do Arquivo Histórico Militar. 19. A importância dos «espaços da sociabilidade científica», como a Sociedade Real Marítima, Militar e Geographica ..., composta maioritariamente por militares formados por estas instituições de ensino, para a formação da ideologia liberal foi salientada por Maria de Fátima Nunes, O Liberalismo Português: Ideários e Ciências. O universo de Marino Miguel Franzini (1800-1860), Lisboa, INIC, 1988. 20. Para o levantamento destas obras existe a obra do General Francisco A. Martins de Carvalho, Dicionário Bibliográfico Militar Português, 2.ª ed., 2 vols., Lisboa, Academia das Ciências, 1976-79, até à Letra M (1.ª ed., 1891). O manuscrito preparatório desta segunda edição encontra-se no Arquivo Histórico Militar. [Posteriormente à publicação deste artigo foi publicado o livro de Rui Bebiano, A Pena de Marte: Escrita da Guerra em Portugal e na Europa (sécs. XVI-XVIII), Coimbra, Minerva ("Minerva Histórica, 20" ), 2000] 21. É preciso salientar que já nesta época o generalato não é exclusivamente aristocrático (v. decreto de D. Maria I de 13 de Maio de 1789, tornando os Generais automaticamente fidalgos da Casa. Real), mas que naturalmente os fidalgos tinham mais facilidades em chegar a estes postos. Uma das criticas que o Morgado de Mateus fez ao exército em 1801, quando se preparava a reorganização do Exército após a "Guerra das Laranjas", centrou-se nos coronéis que considerava na sua maior parte incapazes. A crítica não é compreensível se não se perceber que estes na sua maior parte não eram aristocratas. O que aqui quero salientar é que o "desaparecimento" dos generais aristocratas vai aumentar necessariamente o número de generais vindos de um "estrato intermédio". 22. cf. Mouzinho da Silveira, "Memória acerca do restabelecimento da Carta Constitucional e do Trono de D. Maria" in Ler História, 2, 1983, pág. 149. A nota que explicita estes nomes induz em erro. Mouzinho refere-se a duas personagens e não a uma única quando refere «os Silveiras Magessi»: Silveira refere-se ao 2.º Conde de Amarante, 1.º Marquês de Chaves, o segundo nome refere-se, esse sim, ao Brigadeiro Magessi. Os dois tinham sido chefes das Revoltas anti-contitucionais de 1823 e 1826. |